|
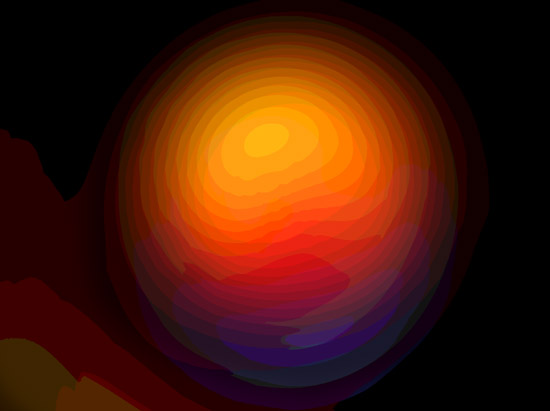
DILEMAS
E DESAFIOS DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS NO
LIMIAR DO SÉCULO XXI1
ANTÔNIO
AUGUSTO CANÇADO TRINDADE2
Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos
No
próximo ano, estará a Declaração Universal de Direitos Humanos
completando seu cinqüentenário, no limiar do novo século.Ao
longo das cinco últimas décadas testemunhamos o processo histórico
de gradual formação, consolidação, expansão e aperfeiçoamento
da proteção internacional dos direitos humanos, conformando um
direito de proteção dotado de especificidade própria. Este
processo partiu das premissas de que os direitos humanos são
inerentes ao ser humano, e como tais antecedendo a todas as formas
de organização política, e de que sua proteção não se esgota
na ação do Estado.
Ao
longo deste meio século, como respostas às necessidades de proteção,
têm-se multiplicado os tratados e instrumentos de direitos
humanos, a partir da Declaração Universal de 1948, tida como
ponto de partida do processo de generalização da proteção
internacional dos direitos humanos. A realização deste I
Congresso Brasileiro de Educação em Direitos Humanos e Cidadania
(São Paulo, 05-07. 05.1997) constitui uma ocasião adequada para
procedermos a um balanço, baseado na experiência acumulada nesta
área, dos dilemas e desafios da proteção internacional dos
direitos humanos no limiar do novo século.
A
primeira Conferência Mundial de Direitos Humanos (Teerã, 1968)
representou, de certo modo, a gradual passagem da fase
legislativa, de elaboração dos primeiros instrumentos
internacionais de direitos humanos (a exemplo dos dois Pactos das
Nações Unidas de 1966), à fase de implementação de tais
instrumentos. A segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos
(Viena, 1993) procedeu a uma reavaliação global da aplicação
de tais instrumentos e das perspectivas para o novo século,
abrindo campo ao exame do processo de consolidação e aperfeiçoamento
dos mecanismos de proteção internacional dos direitos humanos.
Decorridos quatro anos desta última Conferência, encontram-se os
órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos diante
de dilemas e desafios, próprios de nossos dias, que
relacionaremos a seguir.
Cabe,
de início, ter sempre presente que, nas últimas décadas, graças
à atuação daqueles órgãos, inúmeras vítimas têm sido
socorridas. Até o início dos anos 90, no plano global (Nações
Unidas), por exemplo, mais de 350 mil denúncias revelando um
"quadro persistente de violações" de direitos humanos
foram enviadas às Nações Unidas (sob o chamado sistema
extraconvencional da resolução 1503 do ECOSOC). Sob o Pacto de
Direitos Civis e Políticos e seu (primeiro) Protocolo
Facultativo, o Comitê de Direitos Humanos tinha recebido, até
abril de 1995, mais de 630 comunicações, e em 73% dos casos
examinados concluiu que havia ocorrido violações de direitos
humanos. O Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial tinha examinado (sob a Convenção do mesmo
nome), a seu turno, em suas duas primeiras décadas de operação,
810 relatórios (periódicos e complementares) dos Estados Partes.
E o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR),
decorridas quatro décadas de operação do sistema, cuida hoje de
mais de 17 milhões de refugiados em todo o mundo3, sem falar no
total ainda maior de deslocados internos.
No
plano regional, por exemplo, até o início desta década, no
continente europeu, a Comissão Européia de Direitos Humanos
tinha decidido cerca de 15 mil reclamações individuais sob a
Convenção Européia de Direitos Humanos, ao passo que a Corte
Européia de Direitos Humanos totalizava 191 casos submetidos a
seu exame, com 91 casos pendentes. No continente americano, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos ultrapassava o total
de 10 mil comunicações examinadas, enquanto a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, hoje com 14 pareceres
emitidos, passava a exercer regularmente sua competência
contenciosa, contando hoje com onze casos contenciosos pendentes.
E, no continente africano, a Comissão Africana de Direitos
Humanos e dos Povos examinava quase 40 reclamações ou comunicações
sob a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos4, algumas das
quais já decididas.
Graças
aos esforços dos órgãos internacionais de supervisão nos
planos global e regional, logrou-se salvar muitas vidas, reparar
muitos dos danos denunciados e comprovados, por fim a práticas
administrativas violatórias dos direitos garantidos, alterar
medidas legislativas impugnadas, adotar programas educativos e
outras medidas positivas por parte dos governos. Não obstante
todos estes resultados, estes órgãos de supervisão
internacionais defrontam-se hoje com grandes problemas, gerados em
parte pelas modificações do cenário internacional, pela própria
expansão e sofisticação de seu âmbito de atuação, pelos
continuados atentados aos direitos humanos em numerosos países,
pelas novas e múltiplas formas de violação dos direitos humanos
que deles requerem capacidade de readaptação e maior agilidade,
e pela manifesta falta de recursos humanos e materiais para
desempenhar com eficácia seu labor.
Os
tratados de direitos humanos das Nações Unidas têm, com efeito,
constituído a espinha dorsal do sistema universal de proteção
dos direitos humanos, devendo ser abordados não de forma isolada
ou compartimentalizada, mas relacionados uns aos outros.
Decorridos quatro anos desde a realização da II Conferência
Mundial de Direitos Humanos, estamos longe de lograr a chamada
"ratificação universal" das seis "Convenções
centrais" (core Conventions) das Nações Unidas (os dois
Pactos de Direitos Humanos, as Convenções sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação - Racial e contra a Mulher,
a Convenção contra a Tortura, e a Convenção sobre os Direitos
da Criança), - "ratificação universal" esta
propugnada pela Conferência de Viena para o final de século que
já vivemos. Ademais, encontram-se estas Convenções crivadas de
reservas, muitas das quais, em nosso entender, manifestamente
incompatíveis com seu objeto e propósito. Urge, com efeito,
proceder a uma ampla revisão do atual sistema de reservas a
tratados multilaterais consagrado nas duas Convenções de Viena
sobre Direito dos Tratados (de 1969 e 1986), - sistema este, a
nosso modo de ver, inteiramente inadequado aos tratados de
direitos humanos.
A
despeito da aceitação virtualmente universal da tese da
indivisibilidade dos direitos humanos, persiste a disparidade
entre os métodos de implementação internacional dos direitos
civis e políticos, e dos direitos econômicos, sociais e
culturais. Apesar da conclamação da Conferência de Viena, o
Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e a Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher, continuam até o presente desprovidos de um sistema de
petições ou denúncias internacionais. Os respectivos Projetos
de Protocolo, nesse sentido, se encontram virtualmente concluídos,
mas ainda aguardam aprovação. Muitos dos direitos consagrados
nestes dois tratados de direitos humanos são perfeitamente
justiciáveis por meio do sistema de petições individuais, e
urge que se ponha um fim à referida disparidade de procedimentos.
É
inadmissível que continuem a ser negligenciados em nossa parte do
mundo, como o têm sido nas últimas décadas, os direitos econômicos,
sociais e culturais. O descaso com estes últimos é triste
reflexo de sociedades marcadas por gritantes injustiças e
disparidades sociais. Não pode haver Estado de Direito em meio a
políticas públicas que geram a humilhação do desemprego e o
empobrecimento de segmentos cada vez mais vastos da população,
acarretando a denegação da totalidade dos direitos humanos em
tantos países. Não faz sentido levar às últimas conseqüências
o princípio da não-discriminação em relaçao aos direitos
civis e políticos, e tolerar, ao mesmo tempo, a discriminação
como "inevitável" em relação aos direitos econômicos
e sociais. A pobreza crônica não é uma fatalidade, mas
materialização atroz da crueldade humana. Os Estados são
responsáveis pela observância da totalidade dos direitos
humanos, inclusive os econômicos e sociais. Não há como
dissociar o econômico do social, do político e do cultural.
Urge
despojar este tema de toda retórica, e passar a tratar os
direitos econômicos, sociais e culturais como verdadeiros
direitos que são. Só se pode conceber a promoção e proteção
dos direitos humanos a partir de uma concepção integral dos
mesmos, abrangendo todos em conjunto (os direitos civis, políticos,
econômicos, sociais e culturais). A visão atomizada ou
fragmentada dos direitos humanos leva inevitavelmente a distorções,
tentando postergar a realização dos direitos econômicos e
sociais a um amanhã indefinido. A prevalecer o atual quadro de
deterioração das condições de vida da população, a afligir
hoje tantos países, poderão ver-se ameaçadas inclusive as
conquistas dos últimos anos no campo dos direitos civis e políticos.
Impõe-se, pois, uma concepção necessariamente integral de todos
os direitos humanos.
Uma
das grandes conquistas da proteção internacional dos direitos
humanos, em perspectiva histórica, é sem dúvida o acesso dos
indivíduos às instâncias internacionais de proteção e o
reconhecimento de sua capacidade processual internacional em casos
de violações dos direitos humanos. Urge que se reconheça o
acesso direto dos indivíduos àquelas instâncias (sobretudo as
judiciais), a exemplo do estipulado no Protocolo 9 à Convenção
Européia de Direitos Humanos (1990). Concede este último um
determinado tipo de locus standi aos indivíduos ante à Corte
Européia de Direitos Humanos (em casos admissíveis que já foram
objeto da elaboração de um relatório por parte da Comissão
Européia de Direitos Humanos).
O
passo seguinte, a ser dado no século XXI, consistiria na garantia
da igualdade processual (equality of arms/égalité des armes)
entre os indivíduos demandantes e os Estados demandados, na
vindicação dos direitos humanos protegidos5. Ao insistirmos não
só na personalidade jurídica, mas igualmente na plena capacidade
jurídica dos seres humanos no plano internacional, estamos sendo
fiéis às origens históricas de nossa disciplina, o direito
internacional (droit des gens), o que não raro passa despercebido
dos adeptos de um positivismo jurídico cego e degenerado.
Dada
a multiplicidade dos mecanismos internacionais contemporâneos de
proteção dos direitos humanos, a necessidade de uma coordenação
mais adequada entre os mesmos tem-se erigido como uma das
prioridades dos órgãos de proteção internacional neste final
de século. O termo "coordenação" parece vir sendo
normalmente empregado de modo um tanto indiferenciado, sem uma
definição clara do que precisamente significa; não obstante,
pode assumir um sentido diferente em relação a cada um dos métodos
de proteção dos direitos humanos em particular. Assim, em relação
ao sistema de petições, a "coordenação" pode
significar as providências para evitar o conflito de jurisdição,
a duplicação de procedimentos e a interpretação conflitiva de
dispositivos correspondentes de instrumentos internacionais
coexistentes pelos órgãos de supervisão. No tocante ao sistema
de relatórios, a "coordenação" pode significar a
consolidação de diretrizes uniformes (concernentes à forma e ao
conteúdo) e à racionalização e padronização dos relatórios
dos Estados Partes sob os tratados de direitos humanos. E com
respeito ao sistema de investigações (determinação dos fatos),
pode ela significar o intercâmbio regular de informações e as
consultas recíprocas entre os órgãos internacionais em questão6.
A multiplicidade de instrumentos internacionais no presente domínio
faz-se acompanhar de sua unidade básica e determinante de propósito,
- a proteção do ser humano.
É
inegável que, no presente domínio de proteção, muito se tem
avançado nos últimos anos, sobretudo na "jurisdicionalização"
dos direitos humanos, para a qual têm contribuído de modo
especial os sistemas regionais europeu e interamericano de proteção,
dotados que são de tribunais permanentes de direitos humanos, -
as Cortes Européia e Interamericana de Direitos Humanos,
respectivamente. No entanto, ainda resta um longo caminho a
percorrer. Há que promover a chamada "ratificação
universal" dos tratados de direitos humanos - propugnada
pelas duas Conferências Mundiais de Direitos Humanos (Teerã,
1968, e Viena, 1993), - contribuindo, assim, a que se assegure que
a universalidade dos direitos humanos venha a prevalecer nos
planos não só conceitual mas também operacional (a não-seletividade).
Para
isto, é necessário que tal ratificação universal seja também
integral, ou seja, sem reservas e com a aceitação das cláusulas
facultativas, tais como nos tratados que as contêm, as que
consagram o direito de petição individual, e as que dispõem
sobre a jurisdição obrigatória dos órgãos de supervisão
internacional. Atualmente, todos os 40 Estados Partes na Convenção
Européia de Direitos Humanos, além de aceitarem o direito de
petição individual, reconhecem a jurisdição obrigatória da
Corte Européia de Direitos Humanos, o que é alentador. Em
contrapartida, no tocante à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (em que o direito de petição individual é de aceitação
automática pelos Estados Partes), lamentavelmente não mais que
17 dos 25 Estados Partes reconhecem hoje a jurisdição obrigatória
da Corte Interamericana de Direitos Humanos em matéria
contenciosa.
O
século XX, que marcha célere para seu ocaso, deixará uma trágica
marca: nunca, como neste século, se verificou tanto progresso na
ciência e tecnologia, acompanhado paradoxalmente de tanta destruição
e crueldade. Apesar de todos os avanços registrados nas últimas
décadas na proteção internacional dos direitos humanos, têm
persistido violações graves e maciças destes últimos. Às
violações "tradicionais", em particular de alguns
direitos civis e políticos (como as liberdades de pensamento,
expressão e informação, e o devido processo legal), que
continuam a ocorrer, infelizmente têm se somado graves discriminações
(contra membros de minorias e outros grupos vulneráveis, de base
étnica, nacional, religiosa e lingüística), além de violações
de direitos fundamentais e do direito internacional humanitário.
As
próprias formas de violações dos direitos humanos têm se
diversificado. O que não dizer, por exemplo, das violações
perpetradas por organismos financeiros e detentores do poder econômico,
que, mediante decisões tomadas na frieza dos escritórios,
condenam milhares de seres humanos ao empobrecimento, se não à
pobreza extrema e à fome? O que não dizer das violações
perpetradas por grupos clandestinos de extermínio, sem indícios
aparentes da presença do Estado? O que não dizer das violações
perpetradas pelos detentores do poder das comunicações? O que não
dizer das violações ocasionadas pelo próprio progresso científico-tecnológico?
O que não dizer das violações perpetradas pelo recrudescimento
dos fundamentalismos e ideologias religiosas? O que não dizer das
violações decorrentes da corrupção e impunidade?
Cumpre
conceber novas formas de proteção do ser humano ante a atual
diversificação das fontes de violações de seus direitos. O
atual paradigma de proteção (do indivíduo vis-à-vis o poder público)
corre o risco de tornar-se insuficiente e anacrônico, por não se
mostrar equipado para fazer frente a tais violações, -
entendendo-se que, mesmo nestes casos, permanece o Estado responsável
por omissão, por não tomar medidas positivas de proteção. Tem,
assim, sua razão de ser, a preocupação corrente dos órgãos
internacionais de proteção, no tocante às violações
continuadas de direitos humanos, em desenvolver medidas tanto de
prevenção como de segmento, tendentes a cristalizar um sistema
de monitoramento contínuo dos direitos humanos em todos os países,
consoante os mesmos critérios.
A
par da visão integral dos direitos humanos no plano conceitual,
os esforços correntes em prol do estabelecimento e consolidação
do monitoramento contínuo da situação dos direitos humanos em
todo o mundo constituem, em última análise, a resposta, no plano
processual, ao reconhecimento obtido na Conferência Mundial de
Direitos Humanos de Viena, em 1993, da legitimidade da preocupação
de toda a comunidade internacional com as violações de direitos
humanos em toda parte e a qualquer momento, - sendo este um grande
desafio a defrontar o movimento internacional dos direitos humanos
no limiar do século XXI7. Para enfrentá-lo, os órgãos
internacionais de proteção necessitarão contar com consideráveis
recursos - humanos e materiais - adicionais: os atuais recursos -
no plano global, menos de 1% do orçamento regular das Nações
Unidas, - refletem um quase descaso em relação ao trabalho no
campo da proteção internacional dos direitos humanos.
Os
órgãos internacionais de proteção devem buscar bases e métodos
adicionais de ação para fazer frente às novas formas de violações
dos direitos humanos. A impunidade, por exemplo, verdadeira chaga
que corrói a crença nas instituições públicas, é um obstáculo
que ainda não conseguiram transpor. É certo que as Comissões da
Verdade, instituídas nos últimos anos em diversos países, com
mandatos e resultados de investigações os mais variáveis,
constituem uma iniciativa positiva no combate a este mal, - mas
ainda persiste uma falta de compreensão do alcance das obrigações
internacionais de proteção. Estas últimas vinculam não só os
governos (como equivocada e comumente se supõe), mas os Estados
(todos os seus poderes, órgãos e agentes); é chegado o tempo de
precisar o alcance das obrigações legislativas e judiciais dos
Estados Partes em tratados de direitos humanos, de modo a combater
com mais eficácia a impunidade.
Há,
ademais, que impulsionar os atuais esforços, no seio das Nações
Unidas, tendentes ao estabelecimento de uma jurisdição penal
internacional de caráter permanente. Da mesma forma, há que
desenvolver a jurisprudência internacional - ainda em seus primórdios
- sobre as reparações devidas às vítimas de violações
comprovadas de direitos humanos. O termo "reparações"
não é juridicamente sinônimo de "indenizações": o
primeiro é o gênero, o segundo a espécie. No presente domínio
de proteção, as reparações abarcam, a par das indenizações
devidas às vítimas - à luz do princípio geral do neminem
laedere, - a restitutio in integrum (restabelecimento da situação
anterior da vítima, sempre que possível), a reabilitação, a
satisfação e, significativamente, a garantia da não-repetição
dos atos ou omissões violatórios (o dever de prevenção).
Para
contribuir a assegurar a proteção do ser humano em todas e
quaisquer circunstâncias, muito se vem impulsionando, em nossos
dias, as convergências entre o direito internacional dos direitos
humanos, o direito internacional humanitário e o direito
internacional dos refugiados. Tais convergências, motivadas em
grande parte pelas próprias necessidades de proteção, têm se
manifestado nos planos normativo, hermenêutico e operacional,
tendendo a fortalecer o grau da proteção devida à pessoa
humana. Face à proliferação dos atuais e violentos conflitos
internos em tantas partes do mundo, já não se pode invocar a
vacatio legis levando à total falta de proteção de tantas vítimas
inocentes. A visão compartimentalizada das três grandes
vertentes da proteção internacional da pessoa humana encontra-se
hoje definitivamente superada; a doutrina e a prática contemporâneas
admitem a aplicação simultânea ou concomitante das normas de
proteção das referidas três vertentes, em benefício do ser
humano, destinatário das mesmas. Passamos da compartimentalização
às convergências. Cabe seguir avançando decididamente nesta
direção8.
Os
órgãos de supervisão internacional têm, ao longo dos anos,
aprendido a atuar também em distúrbios internos, estados de sítio
e situações de emergência em geral. Graças à evolução da
melhor doutrina contemporânea, hoje se reconhece que as derrogações
e limitações permissíveis ao exercício dos direitos
protegidos, isto é, as previstas nos próprios tratados de
direitos humanos, devem cumprir certos requisitos básicos. Podem
estes resumir-se nos seguintes: tais derrogações e limitações
devem ser previstas em lei (aprovada por um congresso
democraticamente eleito), ser restritivamente interpretadas,
limitar-se a situações em que sejam absolutamente necessárias
(princípio da proporcionalidade às exigências das situações),
ser aplicadas no interesse geral da coletividade (ordre public,
fim legítimo), ser compatíveis com o objeto e propósito dos
tratados de direitos humanos, ser notificadas aos demais Estados
Partes nestes tratados, ser consistentes com outras obrigações
internacionais do Estado em questão, ser aplicadas de modo não-discriminatório
e não-arbitrário, ser limitadas no tempo.
Em
qualquer hipótese, ficam excetuados os direitos inderrogáveis
(como o direito à vida, o direito a não ser submetido a tortura
ou escravidão, o direito a não ser incriminado mediante aplicação
retroativa das penas), que não admitem qualquer restrição. Do
mesmo modo, impõe-se a intangibilidade das garantias judiciais em
matéria de direitos humanos (exercitadas consoante os princípios
do devido processo legal), mesmo em estados de emergência. O ônus
da prova do cumprimento de todos estes requisidos recai
naturalmente no Estado que invoca a situação de emergência pública
em questão. Em casos não previstos ou regulamentados pelos
tratados de direitos humanos e de direito humanitário, impõem-se
os princípios do direito internacional humanitário, os princípios
de humanidade e os imperativos da consciência pública. Aos órgãos
de supervisão internacional está reservada a tarefa de verificar
e assegurar o fiel cumprimento desses requisitos pelos Estados que
invocam estados de sítio ou emergência, mediante, e.g., a obtenção
de informações mais detalhadas a respeito e sua mais ampla
divulgação (inclusive das providências tomadas), e a designação
de relatores especiais ou órgãos subsidiários de investigação
dos estados ou medidas de emergência pública prolongados9.
As
iniciativas no plano internacional não podem se dissociar da adoção
e do aperfeiçoamento das medidas nacionais de implementação,
porquanto destas últimas - estamos convencidos - depende em
grande parte a evolução da própria proteção internacional dos
direitos humanos. A responsabilidade primária pela observância
dos direitos humanos recai nos Estados, e os próprios tratados de
direitos humanos atribuem importantes funções de proteção aos
órgãos dos Estados. Ao ratificarem tais tratados, os Estados
Partes contraem a obrigação geral de adequar seu ordenamento jurídico
interno à normativa internacional de proteção10, a par das
obrigaçoes específicas relativas a cada um dos direitos
protegidos.
No
presente domínio de proteção, o direito internacional e o
direito interno se mostram, assim, em constante interação. É a
própria proteção internacional que requer medidas nacionais de
implementação dos tratados de direitos humanos, assim como o
fortalecimento das instituições nacionais vinculadas à vigência
plena dos direitos humanos e do Estado de Direito. De tudo isto se
pode depreender a premência da consolidação de obrigações
erga omnes de proteção, consoante uma concepção
necessariamente integral dos direitos humanos.
Enfim,
ao voltar os olhos tanto para trás como para frente,
apercebemo-nos de que efetivamente houve, nestas cinco décadas de
experiência acumulada na área, um claro progresso, sobretudo na
jurisdicionalização da proteção internacional dos direitos
humanos, - mas, ainda assim, também nos damos conta de que este
progresso não tem sido linear. Tem havido momentos históricos de
avanços, mas lamentavelmente também de retrocessos, quando não
deveria haver aqui espaço para retrocessos.
Neste
final de século, resta, certamente, um longo caminho a percorrer,
tarefa para toda a vida. Uma fiel ilustração dos obstáculos que
enfrenta a luta em prol da proteção internacional dos direitos
humanos reside, a nosso ver, no mito do Sísifo, nas imorredouras
reflexões de um dos maiores escritores deste século, Albert
Camus. É um trabalho que simplesmente não tem fim. Trata-se, em
última análise, de perseverar no ideal da construção de uma
cultura universal de observância dos direitos humanos, do qual
esperamos nos aproximar ainda mais, no decorrer do século XXI,
graças ao labor das gerações vindouras que não hesitarão em
abraçar a nossa causa.
Notas
e Referências Bibliográficas
1.
Texto de exposição do Autor no I Congresso Brasileiro de Educação
em Direitos Humanos e Cidadania, patrocinado pela Rede Brasileira
de Educação em Direitos Humanos, e realizado no Salão Nobre da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), em
05.05.1997.
2.
Ph.D. (Cambridge); Professor Titular da Universidade de Brasília
e do Instituto Rio-Branco; Membro dos Conselhos Diretores do
Instituto Interamericano de Direitos Humanos (Costa Rica) e do
Instituto Internacional de Direitos Humanos (Estrasburgo).
3.
Para um exame destes e outros dados, cf. A.A. Cançado Trindade,
Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, v.I, Porto
Alegre, S.A. Fabris Ed., 1997, capítulo II, pp. 61 e ss.
4.
Cf. ibid., pp. 62-63.
5.
A.A. Cançado Trindade. Tratado de Direito Internacional..., op.
cit. supra n. (3), pp. 84-85.
6.
Para um amplo estudo, cf. A.A. Cançado Trindade, Co-existence and
Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human
Rights (At Global and Regional Levels), 202 "Recueil des
Cours de l'Académie de Droit International" - Haia (1987)
pp. 13-435.
7.
A.A. Cançado Trindade. "A Proteção Internacional dos
Direitos Humanos ao Final do Século XX", in A Proteção
Nacional e Internacional dos Direitos Humanos (Seminário de Brasília
de 1994, orgs. Benedito Domingos Mariano e Fermino Fechio Filho),
São Paulo, FIDEH/Centro Santos Dias de Direitos Humanos, 1995,
pp. 112-115.
8.
A.A. Cançado Trindade, Gérard Peytrignet e Jaime Ruiz de
Santiago. As Três Vertentes da Proteção Internacional dos
Direitos da Pessoa Humana, San José/Brasília, IIDH/CICV/ACNUR,
1996, pp. 117-121.
9.
Cançado Trindade. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos
- Fundamentos Jurídicos e Instrumentos Básicos, São Paulo, Ed.
Saraiva, 1991, pp. 16-17.
10.
No tocante ao direito brasileiro, cf. A.A. Cançado Trindade
(Editor). A Incorporação das Normas Internacionais de Proteção
dos Direitos Humanos no Direito Brasileiro (Seminários de Brasília
e Fortaleza de 1993), 2a. edição, Brasília/San José, IIDH/CICV/ACNUR/CUE/ASDI,
1996, pp. 7-845; A.A. Cançado Trindade (Editor), A Proteção dos
Direitos Humanos nos Planos Nacional e Internacional: Perspectivas
Brasileiras, San José/Brasília, IIDH/Fund. F. Naumann, 1991, pp.
1-357; Flávia Piovesan, Direitos Humanos e o Direito
Constitucional Internacional, São Paulo, Max Limonad, 1996, pp.
11-332; Celso D. de Albuquerque Mello, Direito Constitucional
Internacional, Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 1994, pp. 165-191.
|