|
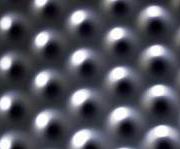
As parcerias entre as
Polícias, as Universidades e as Ong’s: sinais promissores
de mudança na sociedade brasileira
Luís
Flávio Sapori
Pesquisador
da Fundação João Pinheiro/Professor da PUC – MINAS
Há um processo em curso na sociedade brasileira na área de
segurança pública ainda não devidamente captado e analisado. É um
processo rico e promissor que aponta para a efetivação de mudanças
qualitativas nas organizações policiais em nossa sociedade, mudanças
essas que dizem respeito à consolidação de nossas instituições
democráticas. Estou me referindo à proliferação de parcerias entre
as organizações policiais e as universidades, institutos de pesquisa e
organizações não-governamentais. Nos últimos
anos programas de treinamento e de formação de policiais têm
sido empreendidos não mais sob o monopólio
das respectivas academias de polícia, mas envolvendo a participação
decisiva de entidades que compõem o ambiente social destas organizações.
Não constitui mais novidade o fato de que a definição de conteúdos
programáticos, de procedimentos pedagógicos e a própria realização
de aulas resulte da inserção de atores externos ao trabalho policial.
Convênios têm sido estabelecidos para viabilizar uma divisão de
atribuições entre as academias de polícia e as organizações
parceiras, sendo que estas últimas têm assumido uma importância cada
vez maior no processo decisório dos programas de formação e
treinamento.
Em pelo menos 15 estados brasileiros este fenômeno já pode ser
detectado, estando presente desde o Amapá até o Rio Grande do Sul,
passando por diversos estados do Nordeste, como são os casos do Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Sergipe. Na região
sudeste os destaques são Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito
Santo. Merece menção o fato de que o fenômeno ainda não está
presente no estado de São Paulo. As
relações entre a universidade e as organizações policiais neste
estado ainda são pautadas por um alto grau de animosidade recíproca.
Iniciou-se,
inclusive, um intercâmbio a nível nacional entre as entidades que estão
participando destas parcerias com as polícias brasileiras. Dois
encontros nacionais já foram realizados, sendo o primeiro em Belo
Horizonte (MG) no ano de 2000 e o segundo em Recife (PE), no mês de
agosto de 2001. Os encontros permitiram
uma troca de experiências entre as diversas entidades e
consolidaram a formação do Fórum
Nacional de Educação, Democracia e Segurança. Deve-se ressaltar
que este network organizacional em gestação tem contado com o apoio
decisivo da Fundação Ford.
Um diagnóstico preliminar destas experiências permite
visualizar um quadro diversificado, a despeito de algumas
homogeneidades. Um aspecto relativamente comum diz respeito ao fato de
que as polícias militares são os parceiros preferenciais. Em poucos
estados brasileiros ocorre a presença também da polícia civil, como são
os casos do Rio Grande do Sul e de
Minas Gerais. É um aspecto relevante, sob meu ponto de
vista, que permite identificarmos dinâmicas distintas entre as
polícias militares e as polícias civis no que tange à maior transparência
e interatividade com o ambiente externo no atual contexto brasileiro. As
polícias civis têm demonstrado resistência
à abertura da discussão mais ampla e pública de seus mecanismos de
formação e treinamento, preferindo a adoção de posturas mais
corporativas e, porque não dizer, mais conservadoras.
Se há prevalência das polícias militares em um dos lados da
parceria, do outro lado identificam-se tipos diversos de organizações.
Estão inseridas aqui:
a)
organizações não-governamentais, tais como GAJOP em
Pernambuco, PROJETO AXÉ na Bahia, CAPEC no Amapá e a Cruz Vermelha
Internacional;
b)
universidades federais e particulares, tais como a UFRS, a UFMG,
a UFF, UFSE, UFRN, UFPB, UFPR, UFES, UFPE, Universidade Vale do Itajaí
(SC);
c)
institutos públicos de pesquisa, tais como Fundação João
Pinheiro (MG) e Fundação Joaquim Nabuco (PE).
O
quadro acima aponta para
realidades que envolvem organizações da sociedade civil bem como
organizações que compõem a estrutura de executivos estaduais e
federal. Em outros termos, existem parcerias internas ao Estado e
parcerias externas ao Estado.
Dimensão específica que diferencia as experiências estaduais
refere-se aos tipos de parcerias estabelecidas, variando num continuum
que incorpora desde cursos básicos de qualificação para policiais da
ativa até cursos de especialização para oficiais superiores. Os
objetos das parcerias são, geralmente, os seguintes:
a)
cursos de qualificação e/ou especialização em segurança pública
para oficiais superiores das polícias militares ou mesmo para delegados
das polícias civis, como ocorrem na Fundação João Pinheiro, Fundação
Joaquim Nabuco, UFMG, UFF e UFES. O que tem prevalecido é a transformação
dos antigos Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) e Curso Superior
de Polícia (CSP), tradicionalmente organizados pelas Academias das Polícias
Militares, em cursos de especialização ministrados pelas instituições
parceiras;
b)
curso de formação de oficiais da Polícia Militar, como ocorre
nos estados de Santa Catarina, envolvendo a Universidade do Vale do
Itajaí, e do Paraná, envolvendo a UFPR;
c)
cursos de aperfeiçoamento ou mesmo de introdução de novas
habilidades policiais, geralmente de curta duração e especialmente nas
áreas de direitos humanos e de polícia comunitária. O público-alvo,
nestes casos, tem sido tanto
os policiais da base quanto policiais de instâncias de comando. Tem
prevalecido a atuação das organizações não-governamentais, como
pode ser verificado no Amapá, Pernambuco e Bahia.
Merece
menção neste ponto o fato de que as parcerias atingem de forma muito
incipiente os postos hierárquicos inferiores das organizações
policiais, prevalecendo o intercâmbio com as elites organizacionais. Além
disso, os cursos de formação básica ministrados quando do ingresso
dos policiais em suas respectivas organizações não têm sido objeto
das parcerias até o momento.
No que concerne ao tempo de vigência, os intercâmbios com as
organizações policiais brasileiras foram estabelecidas, em sua
maioria, nos últimos 5 anos, sendo, portanto, relativamente recentes.
Exceções à regra são os casos de Minas Gerais e Pernambuco, que
apresentam parcerias com as polícias militares há 16 anos e há 10
anos, respectivamente. Em Minas Gerais, por exemplo, desde 1985 a Polícia
Militar, através de sua Academia de Polícia, divide com a Fundação
João Pinheiro, que é uma organização vinculada ao sistema de
planejamento do executivo estadual, a coordenação dos cursos
oferecidos aos capitães, majores e tenentes-coronéis da ativa.
Atualmente estes cursos têm o grau de especialização latu
sensu e são denominados de Curso de Especialização em Segurança
Pública (CESP) e Curso de Especialização em Gestão Estratégica de
Segurança Pública (CEGESP). Em Pernambuco, por sua vez, pode-se situar
os cursos oferecidos pela Fundação Joaquim Nabuco à PMPE, quais
sejam, Curso Superior de Polícia e Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais. Desenvolvidos sob a coordenação da FJN, através da Escola
de Governo e Políticas Públicas que
concebeu o projeto pedagógico dos cursos, tendo como eixo
integrador curricular a gestão de políticas públicas de defesa
social.
Outro aspecto das parcerias refere-se ao conteúdo programático
ministrado nos cursos. O espectro é variado considerando a ênfase
distinta em campos de conhecimento das ciências sociais. Pode-se
constatar, por um lado, a prevalência de conteúdos relacionados à área
jurídica, como são os casos de Santa Catarina e Paraná. Já nas
experiências em curso nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Espírito
Santo e Rio de Janeiro, os cursos de pós-graduação oferecidos aos
oficiais superiores das Polícias Militares contemplam disciplinas na área
de administração de empresas além da formação intensiva em
disciplinas da área de sociologia, ciência política e direcionadas
para a temática da segurança pública. Merece destaque o projeto da
UFF com a PMERJ que tem um módulo de disciplinas com as características
acima referidas s à cargo da Universidade. Nos cursos em parcerias com
as organizações não-governamentais tem prevalecido, por seu turno,
conteúdos relacionados à área de direitos humanos. Exemplos mais
destacados são os dos estados do Amapá e da Bahia, além do convênio
da Cruz Vermelha Internacional com o Ministério da Justiça que acaba
contemplando polícias militares de diversos estados brasileiros.
Transparência
e legitimidade das organizações policiais
A partir deste diagnóstico preliminar, uma questão coloca-se
para reflexão:
-
em que medida tais parcerias proporcionam mudanças efetivas no
modo de atuar e de pensar das organizações policiais brasileiras no
sentido do aprimoramento de sua inserção democrática ?
Minha
perspectiva aqui é abordar esta questão sob o prisma sociológico,
evitando incorrer em discursos retóricos fáceis acerca do tema. É
importante nesse sentido priorizar os juízos
de fato em relação aos juízos
de valor. É desejável
sob diversos parâmetros normativos a viabilização e a ampliação das
referidas parcerias. Pode-se defendê-las, por exemplo, com o
argumento de que elas são práticas democráticas por excelência,
viabilizando mecanismos de transparência das organizações policiais.
Este, inclusive, é meu ponto de vista.
Minha
preocupação, no entanto, é identificar
os sinais mais concretos do impacto institucional deste processo.
Se ele é desejável, por um lado, não significa que seja efetivo, por outro.
Motivações nobres as mais diversas têm orientado a atuação
das instituições de ensino, pesquisa e organizações não-governamentais
na busca da aproximação com as polícias.
Prevalece, entretanto, a perspectiva de induzir mudanças nas
referidas organizações policiais. Acredita-se, de modo geral, que a
introdução de novos conteúdos programáticos, de novas metodologias
de ensino, de novas abordagens da realidade social sejam capazes de
suscitar a emergência de
formas alternativas de pensar e de agir entre os policiais. Acredita-se,
de modo geral, que a mera reforma dos processos formais de ensino seja
capaz de propiciar transformações substantivas nas organizações
policiais. É preciso refletir mais detidamente sobre a efetiva
concretização deste objetivo, considerando seus dilemas, paradoxos e
limites, entre outros aspectos.
Até
o momento não realizamos no Brasil uma avaliação destas parcerias. Não
dispomos ainda nem mesmo de uma metodologia relativamente consensual que
seja capaz de avaliar seus impactos institucionais. E tal empreendimento
não é tão simples como pode parecer a princípio. Envolve a definição
de critérios para qualificar efetividade, elaboração de indicadores
que possam medir impactos institucionais variados, operacionalização
de métodos de coleta de dados, etc. Considerando estas limitações,
prefiro tecer considerações mais gerais sobre minhas percepções do
fenômeno que terão o caráter muito mais de hipóteses do que
propriamente de constatações empiricamente fundamentadas.
E
minha hipótese básica pode ser formulada nos seguintes termos:
-
as parcerias em curso entre as polícias e as universidades e organizações
não-governamentais, dadas suas características já delineadas, tendem
a induzir e a fortalecer o grau de democratização das polícias no que
concerne à ampliação da transparência e redução do insulamento
organizacional. Por outro lado, tais parcerias tendem a ser pouco
capazes de ampliar o grau de eficiência e eficácia destas organizações
no combate à criminalidade.
Esta questão nos remete a um debate sociológico muito
relevante que diz respeito aos mecanismos sociais geradores de mudanças
nas organizações policiais, em especial o sistema de ensino. Não há
consenso entre estudiosos das organizações policiais no que tange ao
efetivo impacto da reformulação
de processos de ensino sobre mudanças substantivas na cultura e nas práticas
organizacionais. Certas abordagens sociológicas da polícia nas
democracias consolidadas, inclusive, indicam que reside mais
no ambiente da organização e menos na reforma das estruturas
formais internas a base de indução de transformações nas maneiras de
pensar e agir por parte dos policiais.
A cultura organizacional
está amparada em processos sociais muito mais complexos do que a
estrutura formal, como é caso de sua história institucional. Além
disso, deve-se considerar que o processo de transmissão de valores,
crenças e informações nas organizações não se resume às suas instâncias
formais de socialização. Ela ocorre também mediante o acionamento de
mecanismos informais que geralmente se estabelecem nas relações face-to-face
entre seus membros. É imprescindível ter em mente que toda e qualquer
organização é composta de uma estrutura formal e de uma estrutura
informal. Ambas são parte de sua existência institucional. Nesse
sentido, mudanças no ensino
formal não implicam, necessariamente, mudanças nas formas de atuar e
pensar das respectivas organizações. Isto não significa afirmar que
através dos programas de formação e treinamento não se possa induzir
processos consistentes de reformas nas polícias. A despeito de suas
limitações, é possível reconhecer a viabilidade do fenômeno mais
precisamente quando se considera a
importância das elites na conformação de traços relevantes do
ethos organizacional.
No
caso das organizações policiais, os procedimentos formais
de socialização compõem parte importante da estrutura
organizacional. Temos cursos de formação básica para os policiais
iniciantes bem como uma série de cursos de qualificação e treinamento
oferecidos àqueles já inseridos nas atividades operacionais. As
parcerias, conforme já explicitei, concentram-se no treinamento e
dirigem-se preferencialmente para segmentos da elite organizacional,
como são os cursos de pós-graduação para oficiais superiores das polícias
militares. Reside neste ponto a
potencialidade de mudança das parcerias. Dado o conteúdo programático
ministrado – disciplinas da área de ciências sociais especialmente -
abre-se a possibilidade de socialização e conseqüente formação
de uma nova elite organizacional em termos de valores e visões de mundo
adequadas aos parâmetros normativos da democracia. Não apenas para
aqueles novatos que estão ingressando na organização
mas principalmente para os que já estão na ativa. É possível
sob este ponto de vista referir-se a gerações de oficiais militares
que consolidam concepções e práticas alternativas de comando da
organização tendo como ponto de inflexão a participação nos cursos
específicos oferecidos pelas parcerias com entidades externas à polícia.
O posicionamento estratégico desta elite nos principais cargos de
comando, por sua vez, é fator decisivo no engendramento de uma postura
mais transparente e mais dialógica com segmentos diversos da sociedade
civil.
A
experiência da Polícia Militar de Minas Gerais é ilustrativa a esse
respeito. A organização que até início da década de 80 tinha
desempenhado papel destacado na ditadura militar, alcança em fins da década
de 90 níveis invejáveis de legitimidade perante a sociedade mineira.
É certamente uma das organizações públicas do estado que mais
usufrui de aprovação e respeito por parte da população. O mesmo grau
de legitimidade ela desfruta perante entidades diversas de defesa dos
direitos humanos. É sintomático o fato de que nunca alcançou aprovação
na opinião pública e nas elites políticas e intelectuais do estado a
idéia da extinção das polícias militares, conforme tem sido
orientado o debate nacional a partir do eixo Rio-São Paulo, nos últimos
anos.
A
parceria com a Fundação João Pinheiro tem parcela decisiva na explicação
do fenômeno, indubitavelmente. A
organização foi capaz ao longo deste período de redefinir seus padrões
de interação com a sociedade civil. Instituiu-se e consolidou-se um
processo de renovação doutrinária
que alcançou relativa hegemonia perante os oficiais superiores
da organização. A abertura para o diálogo e a transparência
tornaram-se características reconhecidas e admiradas na PMMG. O
insulamento corporativo que caracterizava a organização no início da
década de 80 foi claramente superado durante a experiência da
parceria.
Ápice
deste processo deu-se, a partir de 1997, com a realização de uma
pesquisa conjunta entre a organização, a Fundação João Pinheiro e a
UFMG cujo objetivo era realizar um diagnóstico da criminalidade em
Minas Gerais. A efetivação deste estudo exigiu a composição de uma
equipe de pesquisadores que contou com a participação decisiva de
oficiais da corporação policial. O intercâmbio entre acadêmicos e
policiais foi enriquecedor para ambas as partes. Desta experiência
resultou a formação de uma parceria mais estreita entre a Universidade
Federal de Minas Gerais e o Comando de Policiamento da Capital no
sentido do desenvolvimento de um projeto de análise georeferenciada da
criminalidade na cidade de Belo Horizonte, projeto esse que se tornou
referência nacional.
Destaca-se
ainda neste processo a maior transparência e a publicização das estatísticas
criminais no estado de Minas Gerais. O zelo corporativo pela proteção
dos dados produzidos foi sendo paulatinamente superado à medida em que
as organizações parceiras passaram a dispor deles com maior facilidade
e a divulgá-los publicamente com relativa freqüência. Deve-se
considerar que não é casual, nesse sentido, o fato de que Minas Gerais
foi o primeiro estado brasileiro a disponiblizar, através de CD-Rom,
uma série histórica de dados criminais para todos os municípios,
compreendendo o período de 1986 a 1997.
É
relevante considerar, por outro lado, que a potencialidade do impacto
das parcerias não se situa apenas no caráter do conteúdo ministrado
nos cursos. Tão importante quanto, ou até mais importante, são as
interações cotidianas em sala de aula propiciadas pela participação
de entidades externas à polícia. Abre-se uma possibilidade concreta de
troca de idéias, valores, crenças e experiências entre indivíduos
oriundos de ethos
organizacionais bastante distintos. A presença de professores civis,
provenientes do mundo universitário, são recorrentes nas Academias de
Polícia no Brasil desde a década de 80. Contudo, o que há de novo é
o fato de que não são apenas professores individuais que estão
envolvidos no processo, mas sim professores vinculados a organizações
outras que comandam o processo. Neste aspecto pode-se identificar um
salto qualitativo em termos de resultados. Estou me referindo a um
contato mais intensivo entre o mundo acadêmico e o mundo policial ou
mesmo à interação mais próxima entre
militantes de grupos defensores de direitos humanos e os
policiais. As parcerias têm propiciado o intercâmbio entre visões de
mundo que até início da década de 90
eram absolutamente antagônicas. Prevaleciam, e ainda prevalecem
em boa medida, preconceitos e estereótipos recíprocos. Na universidade
brasileira, por exemplo, até há pouco tempo atrás a polícia era
muito mais temida do que propriamente estudada e conhecida. Da
perspectiva policial, por seu turno, sempre foi recorrente referir-se
aos intelectuais como ‘bons em teoria’ e ‘imaturos na prática’.
Os
estereótipos são, por definição, generalizações de experiências
imediatas e singulares dos indivíduos. E em sendo assim, acabam por
suscitar focos de confronto e divergência. Os estereótipos tendem a
ser superados quando intensifica-se a interação entre os indivíduos,
permitindo-lhes perceber quão simplistas eram suas percepções recíprocas.
É exatamente essa a principal contribuição oferecida pelas parcerias.
Ao permitir o contato mais próximo entre mundos anteriormente antagônicos,
criam-se condições sociais para a superação de estereótipos. Em
suma, o processo de mudança suscitado é uma via de mão dupla.
Parcerias
institucionais e eficiência na atividade policial
Se
as parcerias podem possibilitar, por um lado, a ampliação do grau de
transparência e de legitimidade das organizações policiais
envolvidas, por outro lado elas podem não ter
o mesmo efeito em termos da eficiência da atuação operacional
destas organizações. O fato delas estarem se tornando mais legítimas
não implica que estejam se tornando mais eficientes no combate à
criminalidade. Além disso, as parcerias até aqui desenvolvidas na
sociedade brasileira tendem a afetar pouco a estrutura informal, mais
precisamente a cultura policial que caracteriza a atuação cotidiana
das polícias. São duas dimensões importantes do processo que apontam
para suas limitações.
O
fenômeno da cultura policial tem sido estudado a nível internacional,
revelando sua relativa generalidade como realidade social
institucionalizada. Independente
das características organizacionais das polícias, é possível
identificar algo em comum na experiência da atividade policial que
acaba por favorecer a emergência
de uma forma peculiar de conceber seu trabalho, sua relação com a
sociedade e com a população criminosa. Nesse sentido, a cultura
policial ultrapassa fronteiras nacionais, constituindo uma identidade
profissional do ser policial. É recheada de um saber prático,
resultado de experiências cotidianas e confirmando sua dimensão de
informalidade. A cultura policial é socializada nos encontros
rotineiros entre veteranos e novatos, competindo em boa medida com o
treinamento formal oferecido nas academias de polícia. Um dos
componentes da cultura policial é a valorização da virilidade e da
força física como requisitos básicos para se lidar com o mundo da
criminalidade. A questão remete-nos para a inserção da violência no
cotidiano da atividade policial e, consequentemente, para a
potencialidade das referidas parcerias alterarem em alguma medida
esta realidade.
A
violência extra-legal deve ser compreendida tendo em vista as
complexidades relacionadas ao trabalho policial de produção da ordem
sob a lei.
A
articulação entre o combate eficaz ao crime e o respeito aos direitos
civis constitui aspecto central da atividade policial nas sociedades
democráticas. Estão em questão aqui os paradoxos envolvidos no uso da
violência legítima por parte das organizações policiais.
O modelo democrático de garantia da ordem pública pauta-se pela
máxima ordem sob a lei. Ordem
significa conformidade a padrões morais de comportamento, enquanto lei
significa restrições racionais à produção da ordem. Em suma, há
uma oposição potencial entre os ideais de ordem e respeito à
legalidade nas sociedades modernas que se reflete no trabalho policial.
Os policiais tendem a compartilhar, sob esta ótica, uma postura
crítica em relação ao sistema legal, interpretando-o como sério
entrave ao combate eficiente à criminalidade. A lei é problematizada
de modo que os policiais colocam a seguinte questão: mas que lei é
essa que, interpretada literalmente, obriga o policial a agir fora dos
formalismos para produzir a ordem que ela mesmo almeja?
Sob esta ótica, a violência abusiva deve ser compreendida tendo
em vista as complexidades
relacionadas ao trabalho policial de produção de ordem sob a lei. Sua
persistência como procedimento cotidiano nas relações entre policiais
e criminosos e cidadãos de maneira geral na sociedade brasileira está
vinculada ao duplo significado que assume na atividade cotidiana: violência
como recurso instrumental e como recurso moral. É concebida assim como
instrumento eficiente de prevenção e de apuração da criminalidade além
de sua legitimação enquanto recurso na luta contra o mal, representado
pelo crime.
As parcerias em curso têm pequena possibilidade de atuar
sobre esta realidade por dois motivos: (a) raramente atingem os
policiais de linha-de-frente das organizações policiais e (b) os conteúdos
ministrados privilegiam a disseminação de valores e visões de mundo,
deixando um gap em termos de métodos
operacionais de trabalho. A mudança de valores, crenças e atitudes da
elite organizacional e´ decisiva na alteração de padrões da cultura
organizacional mas tem impacto restrito em termos do saber informal da
organização. Boa parte deste saber é mantido pelas posições hierárquicas
inferiores e que estão fora, até o momento, dos programas de
treinamento inovadores que têm sido desenvolvidos. Exceções
a serem mencionadas são os casos do Amapá que desenvolve
programa de formação dos policiais militares em direitos humanos,
premiado internacionalmente, e do Rio de Grande do Sul que tem a UFRS
envolvida em projeto de formação integrada de policiais civis e
policiais militares.
Além
disso, não basta atingir as bases das organizações policiais para que
se possa afetar diretamente o saber prático da cultura policial. Não
serão cursos convencionais de direitos humanos capazes de alterar
valores e crenças de policiais veteranos que estão há mais de 10 anos
atuando nas ruas. O problema não se resume a disseminar valores
alternativos. A persistência do ethos
guerreiro como elemento da cultura policial na sociedade brasileira não
pode ser explicada pelo desconhecimento do ideário dos direitos humanos
por parte dos policiais. Retomando o argumento acima discutido, a violência
policial tem um caráter instrumental, funcionando como método de
trabalho. Ela é percebida como recurso funcional para o bom desempenho
da atividade profissional.
Em
sendo assim, a superação desta realidade supõe a oferta de métodos
alternativos de trabalho que possam se contrapor aos métodos informais
e convencionais. O que procuro afirmar aqui é
a idéia de que muitas das características da cultura policial
na sociedade brasileira não podem ser alteradas simplesmente por mudanças
curriculares bem intencionadas. Tende a persistir o gap
entre a socialização formal e a socialização informal. O poder
mobilizador do saber prático policial repassado pelos veteranos reside
na sua capacidade de instrumentalizar minimamente os novatos. Este
aprende a ser policial é na prática, como é correntemente afirmado em
nossas unidades policiais civis e militares. Valoriza-se a prática
porque ela não é anômica,
como muitos poderiam imaginar. Valoriza-se a prática por que ela é
recheada de métodos e dicas para
se lidar com os desafios cotidianos da profissão.
Entendo
que o desafio das parcerias é ainda maior se considerarmos o contexto
de democratização da sociedade brasileira que, por sua vez, tem
acentuado num ritmo intenso, e desejável, as restrições ao trabalho
policial. Atualmente, na sociedade brasileira, não é mais possível
‘fazer polícia’ como
se fazia até fins da década de 80. Os próprios policiais reconhecem
isso e o afirmam corriqueiramente nas salas de aula. Há uma certa
perplexidade nas bases das polícias brasileiras que estão se sentindo
cada vez mais restringidas em sua capacidade de lidar de modo eficiente
com a criminalidade, utilizando o saber prático e convencional.
Há uma sensação generalizada de imobilismo e conseqüente
perda de eficiência entre os policiais.
Pode-se
afirmar que de certo modo a perda da eficiência tanto na atividade
ostensiva quanto na atividade investigativa esteja realmente
acontecendo. As organizações policiais brasileiras têm diante de si
um ambiente social cada vez mais fiscalizador
que se expressa no fortalecimento das entidades de defesa dos direitos
humanos bem como na elaboração de uma legislação mais restritiva que
impõe custos adicionais à atuação policial que se descola dos parâmetros
normativos de respeito aos direitos civis. Não se pode mais
combater o crime utilizando-se o poder de polícia com alto grau
de arbítrio, como sempre foi recorrente na história brasileira. O
saber prático que tradicionalmente tem conformado a orientação do
policial em seu trabalho cotidiano não encontra mais o espaço
institucional de outrora. Desse modo, policiais militares e civis
experimentam a sensação de estarem
absolutamente manietados e coagidos. Eles não têm mais a
“liberdade” de utilizarem os métodos concebidos como adequados para
lidar com o mundo da marginalidade. Como não conhecem e não acreditam
em métodos alternativos do “fazer polícia”, tendem a resignar-se
na manutenção de um ritmo de produtividade no trabalho que evite a
exposição a riscos profissionais considerados indesejáveis. Se a
sociedade brasileira cada vez mais
limita a discricionariedade do policial, então, ela que arque com o ônus
disso, o que envolveria na percepção dos policiais, a ampliação das
facilidades para o “mundo da bandidagem”.
Em outras palavras, os policiais tendem a manifestar e a
legitimar uma postura profissional pautada por alto grau de imobilismo e
de apatia e consequentemente de ineficiência.
Certamente
a alteração desta realidade não é tão simples como pode parecer a
princípio. Estamos diante da tarefa de aumentar a eficiência do
combate ao crime num contexto crescentemente restritivo como acontece no
processo de fortalecimento das instituições democráticas.
O dilema pode ser superado com o engendramento de novas formas de
atuação policial, seja ostensiva ou investigativa, que permitam a
maximização do poder dissuasório do Estado num contexto de restrições
democráticas. A tarefa é construir novos métodos práticos e
operacionais que permitam ao policial da base perceber que é possível
alcançar resultados concretos na redução da incidência da
criminalidade a despeito da inevitabilidade das imposições legais. A
postura de imobilismo e de apatia que
prevalece no momento só pode ser superada com a apresentação, ao
policial, de um saber operacional alternativo e que tenha a capacidade
de competir com o saber prático convencional, superando-o num momento
seguinte. Em outras palavras, estamos diante do desafio de ampliar o
grau de profissionalização das organizações policiais na sociedade
brasileira.
Sob
meu ponto de vista, as universidades e as organizações não-governamentais
podem contribuir decisivamente neste processo . O desafio da
construção de polícias mais eficientes é também conjunto. Não diz
respeito apenas às polícias. Não é simplesmente uma questão de técnica
policial que deva ficar restrita aos profissionais da área. As
parcerias até então estabelecidas têm amplas condições de avançarem
nesse sentido. A universidade não é detentora deste novo saber
policial. Não cabe à ela a pretensão ou a expectativa de oferecê-lo
pronto e acabado como um pacote. Entendo que a tarefa envolve um esforço
conjunto, compartilhado que implique a possibilidade de viabilizar a
combinação do conhecimento prático dos policiais e o conhecimento teórico-científico
da academia. Duas experiências em andamento no Brasil sinalizam para a
viabilidade prática do que está sendo defendido aqui: (a) a parceria
entre a UFMG e a PMMG no sentido de construir novos métodos de
policiamento ostensivo com base em modelos de georeferenciamento, mais
particularmente através da maximização do uso das informações
criminais no planejamento das atividades policiais e na distribuição
dos recursos humanos e materiais da organização;
(b) o curso de formação em direitos humanos oferecido pela Cruz
Vermelha Internacional que dissemina o ideário dos direitos humanos
combinado a metodologias práticas de intervenção e abordagem
policiais. Em outras palavras, o curso alia a formação normativa
à dimensão técnica do fazer policial.
Para finalizar, devo dizer que estamos diante de uma tarefa
instigante na sociedade brasileira e que é parte integrante da
consolidação das instituições democráticas. Referenciando em
Norbert Elias, proeminente sociólogo alemão, permito-me dizer que a
sociedade brasileira ainda está por efetivar seu processo civilizador,
principalmente no que diz respeito ao uso devido da violência
monopolizada pelo Estado. Já conseguimos alguns avanços. É importante
reconhecê-los e torná-los públicos. Mas há muito ainda o que fazer.
Não se deduza da análise acima empreendida o desconhecimento das
dificuldades envolvidas na consolidação destas parcerias. Conflitos
intermitentes e descontinuidades são características que em
maior ou menor grau afetam as mais diversas experiências aqui
delineadas. A despeito disso, minha expectativa é a de que este
processo de mudança continue se fortalecendo, demarcando um avanço
institucional irreversível na sociedade brasileira.
BIBLIOGRAFIA
BAYLEY,D.
(1975) – “ The police and political development in Europe”
In TILLY,C. (ed) – The formation of national states in western
europe
Princeton, New Jersey
Princeton University Press
BAYLEY,D.
(1992) – “ Comparative organization of the police in
English-speaking countries”
in Tonry,M.,Morris,N. (eds) – Modern Policing
Chicago and London, The
University of Chicago Press
CAMPOS
COELHO,Edmundo (1988) – “ A criminalidade urbana violenta”
DADOS - Revista de Ciências Sociais
ELIAS,N.
(1994) – O processo
civilizador
Rio de Janeiro, Jorge
Zahar Editor
GIDDENS,
A (2001) – O Estado-Nação
e a violência
São Paulo, EDUSP
JACOB,H.,et
all (2001) – Courts, Law and politics in comparative perspective
New Haven and London
Yale University Press
KANT
DE LIMA, R. (1995) – A polícia da cidade do Rio de Janeiro: seus
dilemas e paradoxos Rio de Janeiro Forense 2 ed.
MEYER,J.,ROWAN,B.
(1979) – “Institutionalized organizations: formal structure as myth
and ceremony”
American Journal of Sociology
vol. 83 nº.
2
MUNIZ,
Jaqueline (1999) - Ser policial é,
sobretudo, uma razão de ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro.
Tese
de Doutorado apresentada ao IUPERJ. Rio de Janeiro.
NEUBAUER,D.
(1996) – America´s courts and the criminal justice system
Wadsworth Publishing Company
PAIXÃO,Antônio
Luiz (1988) – Crime, controle social e consolidação da cidadania: as
metáforas da cidadania
in REIS,F.W.,O’DONNELL(org) – A democracia no Brasil: dilemas
e perspectivas
São Paulo Vértice
SAPORI,L.F.,BARNABÉ,S.
(2001) – “ Cultura militar
e violência policial: aspectos empíricos e teóricos”
Teoria e Sociedade. UFMG,
nº 7
SHERMAN,L.
– “ Attacking crime: police and crime control”
in
Tonry,M.,Morris,N. (eds) – Modern Policing
Chicago and London, The
University of Chicago Press
SKOLNICK,J.
(1966) – Justice without trial: law enforcement in democratic society
New
York John
Wiley & Sons, Inc.
SOARES,L.E. (2000) – Meu casaco de general
São
Paulo, Companhia das Letras
WALKER,S.
(1994) – Sense and nonsense about crime and drugs: a policy guide
Wadsworth Publishing Company
ZALUAR,
Alba (1999) - "Violência e criminalidade" in O que ler na Ciência
Social brasileira (1970-1995)
Volume 1. Antropologia
Editora Sumaré/ ANPOCS. São
Paulo
|